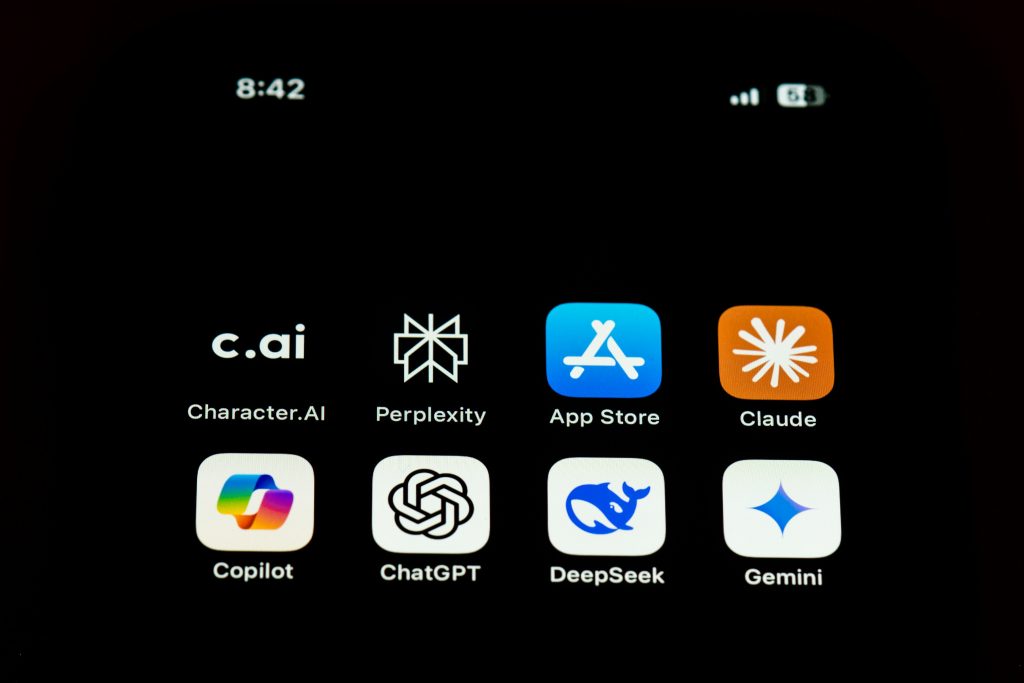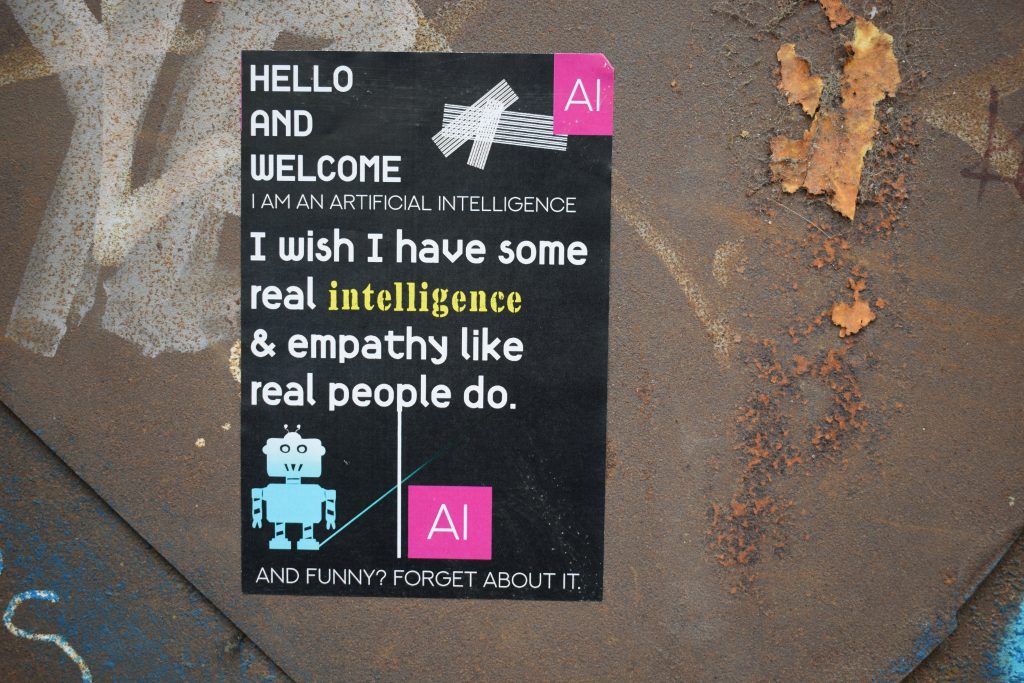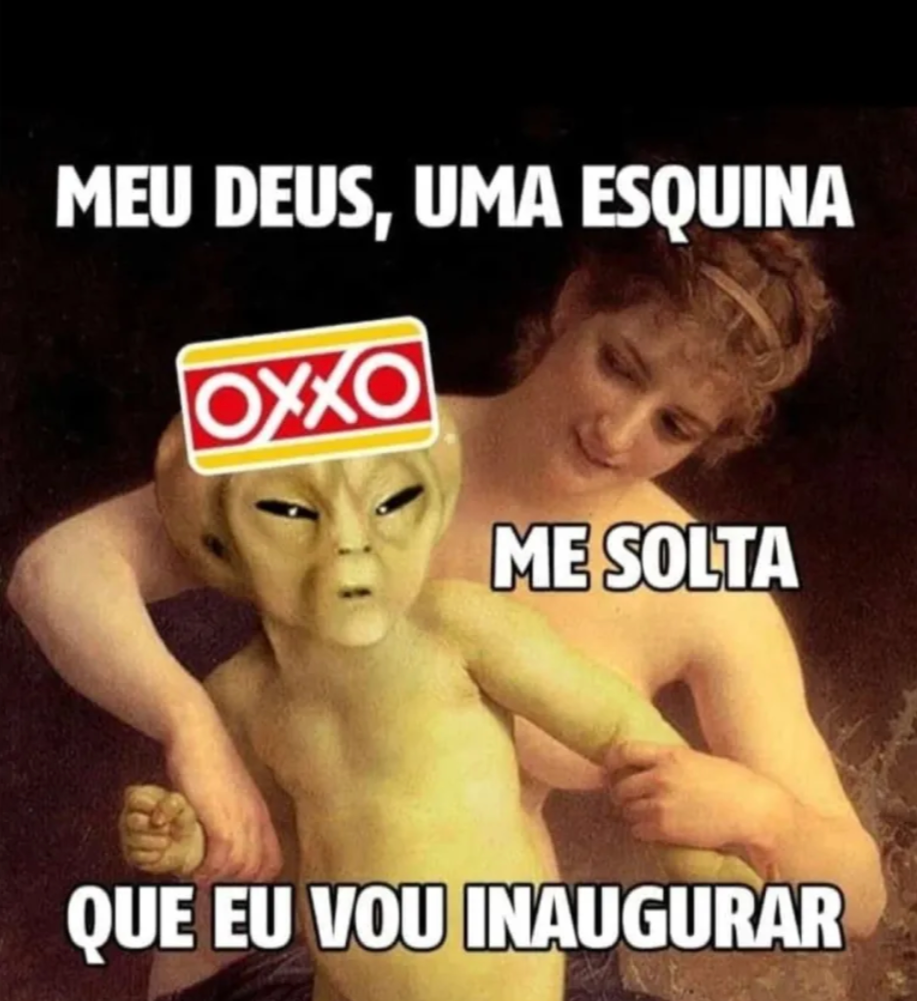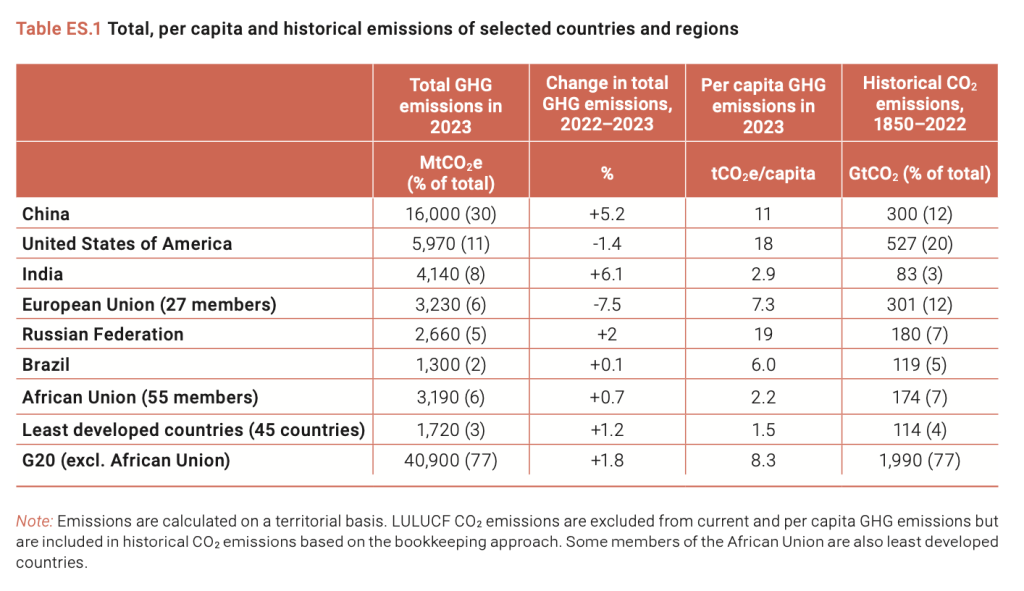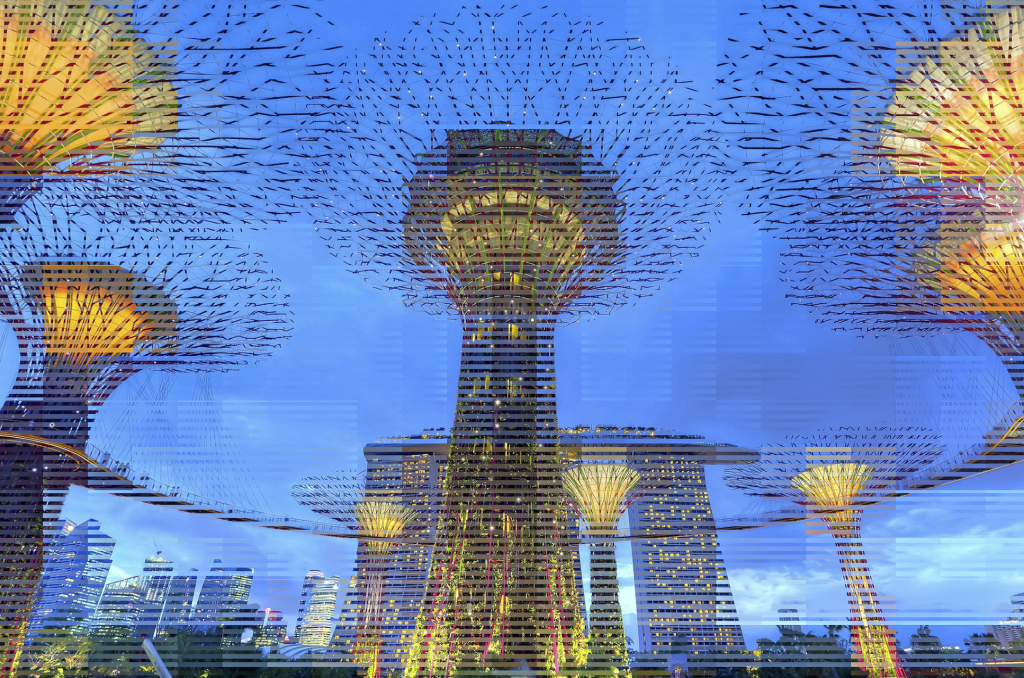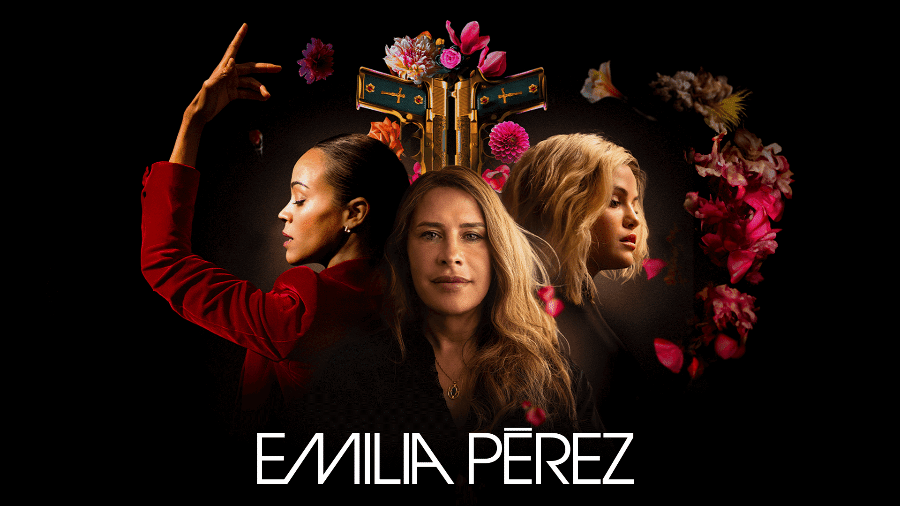Na semana passada, a publicidade brasileira foi surpreendida após a revelação – já comprovada e admitida pelas partes envolvidas – de que o case vencedor do Leão de Ouro no Festival de Cannes deste ano, na categoria “experiência de marca e ativação”, foi construído através de uma campanha de engajamento falsa. Mas o que isso tem a ver com lugares?
A “campanha” envolveu uma ativação urbana durante o carnaval em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Banners estampando “Esse anúncio bancou o aluguel desse apê no carnaval” teriam sido pendurados em sacadas e fachadas de apartamentos alugados por turistas, levando a acreditar que a experiência envolvia uma integração orgânica da marca à celebração do carnaval e conexão autêntica com as pessoas e os lugares da festa.
A ilusão, porém, durou pouco. A “ativação” era uma encenação: números inflados e, principalmente, engajamento fake com as pessoas, que mais beirou a manipulação do que a conexão genuína. O resultado? Provável cassação do prêmio e crise de credibilidade não só para os envolvidos, mas para o setor de maneira geral.

Foto: Reprodução/vídeo apresentado em Cannes. Fonte: UOL
Aqui na N/ Lugares Futuros a gente fala sobre Place Branding e não Place Marketing. Mas para além de diferenças conceituais e de abordagem, este caso especificamente enseja uma reflexão comum a marcas, agências, governos e enfim, todos aqueles que trabalham interagindo diretamente com lugares e pessoas: o verdadeiro valor de uma ativação urbana está no espetáculo efêmero, ou é sobre construir legado e referência?
A pergunta é retórica e vocês já sabem a resposta, claro. Mas pensar um pouquinho sobre isso é fundamental para entender a longevidade e a relevância de qualquer iniciativa. Afinal de contas, ninguém quer investir tempo e energia em algo que se desfaz no primeiro sopro, certo?
A ilusão do impacto: quando ativações falham em gerar valor de marca
Embora não seja uma novidade disruptiva, usar espaços urbanos para comunicar mensagens de marca pode, sim, gerar inovação e valor – se executado da maneira correta, logicamente.
Em Bruxelas, por exemplo, o Carrefour montou uma loja pop-up para fazer a ativação do seu marketplace de produtos de segunda mão – uma plataforma online exclusiva para vender e comprar coisas usadas. A ação, que foi a primeira do tipo no varejo de alimentos europeu, incentivou o desapego, promoveu consumo consciente e permitiu que compradores e vendedores acumulassem os famosos pontos para trocar em compras de mercado.
Mas por que uma das maiores supermercadistas do mundo incentiva a venda de produtos usados que ela mesma comercializa? A resposta é simples: porque não é sobre vender, mas se conectar com o público. E para isso, o Carrefour (o europeu, pelo menos) entendeu que a presença urbana era fundamental para fortalecer o vínculo com as pessoas e ratificar o posicionamento desejado.

Foto: Divulgação da ativação urbana de Bruxelas. Fonte: Carrefour
Quando uma marca decide ativar um espaço urbano, ela não está apenas ocupando aquele lugar por tempo determinado, mas entrando na vida das pessoas e se envolvendo com suas rotinas, dores e desejos. Se essa entrada é feita com propósito, o impacto é duradouro. Mas se não há compromisso real com os envolvidos, o que resta é a sensação de estar enganando ou ter sido enganado – como os turistas que se depararam com banners dizendo que uma marca fez algo que ela, na verdade, não fez.
Quem já leu o nosso Relatório de Tendências Urbanas ou explorou algum dos nossos serviços da Urbanscope sabe: diversos cases como este do Carrefour mostram que investir na relação entre lugares e marcas só é bom negócio se as experiências criadas ficarem na memória, gerarem conversa e, principalmente, deixarem alguma transformação positiva para as pessoas que se relacionam com o lugar. Ou seja, ativar espaços urbanos não é apenas sobre executar uma estratégia de marca – e, definitivamente, não é sobre fazer ação de marketing à lá Bangu. Com lugares, o buraco é mais embaixo.
Além do Hype: o poder transformador do Placemaking
A verdadeira ativação de espaços urbanos é muito mais do que gerar visibilidade imediata e burburinho. É um ato de Placemaking: o processo de transformação urbana que busca não apenas tornar os espaços mais atrativos, mas qualificá-los para que se tornem vibrantes, vivos e com muito mais utilidade para quem os usa. Não tem segredo, apenas método:
Lugares vibrantes = pessoas + significado + atividades.
A essa altura, você provavelmente já concorda comigo que pendurar banner, além de poluir visualmente a paisagem e, em alguns casos, infringir leis municipais, não produz engajamento efetivo nenhum com as pessoas do lugar – nem mesmo em caráter temporário.
É claro que marcas de consumo não precisam necessariamente revitalizar uma praça para justificar uma ação estratégica. Contudo, seja carnaval ou procissão de santo, é necessário entender o que as pessoas estão celebrando e ajudá-las a tornar esse momento ainda mais memorável. Além de criar pertencimento, isso dá um empurrãozinho muito bem-vindo no comércio local. Talvez não seja suficiente para conquistar leões em Cannes, mas é tiro e queda para fidelizar pessoas.
Em outras palavras, para que um espaço seja ativado com propósito é preciso engajar as pessoas antes, durante e depois do processo. Quer entender como sua estratégia pode ressoar de verdade em um lugar? Converse com a comunidade. Ela é a verdadeira expert.
O Legado da Autenticidade: Marcas e Lugares à Prova de Futuro
Eu não tenho dúvidas de que as partes envolvidas vão superar este episódio. Mas a lição que fica se estende a todo mundo: na era da desinformação e da desconfiança institucional em escala planetária, a autenticidade é um ativo estratégico inegociável (apesar de que, se tudo agora é autêntico, então nada mais é autêntico…, mas este é assunto para outro post).
Seja uma marca, uma agência criativa ou um governo, todos têm uma escolha a fazer: continuar apostando em estratégias artificiais e rasas de exploração da imagem do lugar, ou investir no que realmente traduz a singularidade desse lugar? Antes de uma “campanha que deu errado”, o que este episódio revela é uma falha estrutural na compreensão do que gera valor em um mundo que exige transparência, propósito e conexão genuína.
Pense na sua cidade, no seu projeto, na sua marca. Você está investindo no próximo espetáculo, ou na construção de um legado para os lugares e as pessoas?